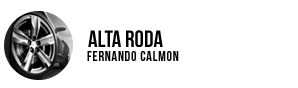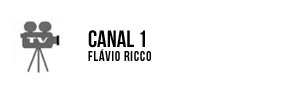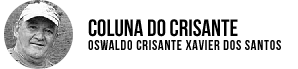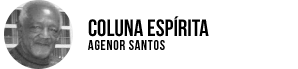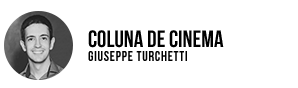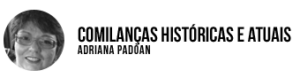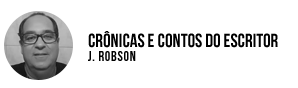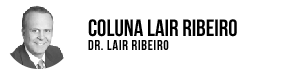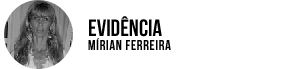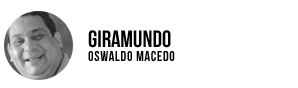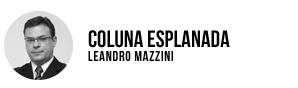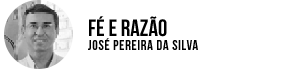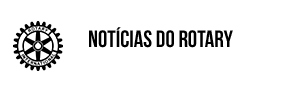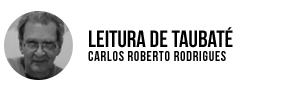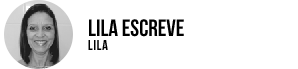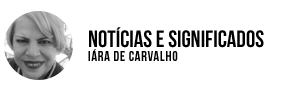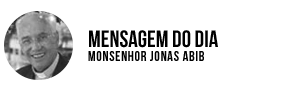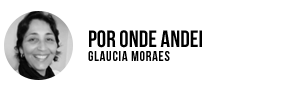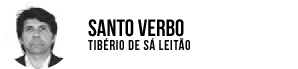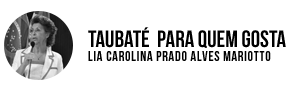O Brasil vivia momentos de pasmaceira e instantes de euforia nacional. Havia notícias de crimes causados por exaustão amorosa, crimes encaixotados nas embalagens dos ciúmes passageiros; as fofocas vasculhavam as vidas dos militares; a maioria dos brasileiros sabia uma piada sobre Costa e Silva.
A política sentia na pele o sabor da repressão, o gosto amargo da tortura, e o peso do silêncio quebrando as doutrinas alucinadas dos coturnos enlouquecidos.
Em 1967, sem explicação racional o terceiro festival de música popular invadiu as escolas, as casas, as igrejas, os cinemas, as praças mal iluminadas e rasgaram também a própria carne entubada pelo sangue de uma revolução musical.
As noites chegaram às terras do país amedrontado, existia um cheiro forte de farda mal lavada pairando no ar. No teatro Paramount, caldeirão aquecido, o festival da canção, de 1967, aquecia a temperatura de um país dirigido pelos azeitonados repletos de estrelas.
Nas casas, por trás das janelas e seus mistérios, a televisão comandada por Sonia Siqueira e Brota Junior dava a direção e o desejo da transmissão do festival. Centenas e centenas de estudantes sentiam o perfume emanado pela liberdade instantânea, os gritos, as torcidas, as vaias, o canto, o gosto amargo da imagem de Costa e Silva colada nas portas de todos os banheiros do Brasil fazendo matemática, isto é, o tal de número 2.
No interior do teatro, nos bastidores, havia um conflito entre os artistas concorrentes, entre poetas da viola, dos teclados, da vida transmitida por sons. Havia o grupo dos meninos de ternos e gravata, os rapazes coloridos, com roupas costuradas pelas mãos das ciganas iluminadas pela lua menstruada nas garrafadas dos sonhos.
Uns brigavam pela permanência do violão como condutor do ritmo e da letra musical; mas, em efusão, havia os defensores da guitarra elétrica, da americanização da música brasileira.
Percorrendo outra realidade, no botequim da esquina do teatro, muitos artistas entraram nas garrafadas de vodga e cachaça. Gilberto Gil trancado no quarto de hotel com sua namorada, Nana Caymme recusava-se a apresentar, a defender a sua canção, o cigarrinho endoidara a parede e o quadro sem sentido pendurado no teto do quarto.
Mas, na fritada dos ovos, “Alegria, Alegria”, de Caetano foi classificada em quarto lugar, muita vaia, muitos aplausos, o público viu o nascimento da tropicália, mas não a entendeu.
“Roda Viva” de Chico Buarque, cantando de terninho preto e gravata, causou um sentimento de anseio político, de ódio “Da Hora do Brasil”, de uma dor perdida dentro da razão, uma vontade desgraçada de vomitar “O Estado”, de fugir da nação.
Os Mutantes, momento sagrado em que Arnaldo, Sergio e Rita Lee dedilhavam guitarras elétricas para acompanhar o músico Gilberto Gil, ainda enxergando nuvens coloridas, cantando “Domingo no Parque”, conquistadora do segundo lugar. Há críticos literários e musicais que apontam o início da tropicália com a música de Gilberto Gil.
De repente, sem repente ou respostas, Augusto Boal dirigiu a apresentação de Marília Medalha e Edu Lobo cantando “Ponteio” o vencedor da noite.
 Na última noite, o presidente Costa e Silva perdera alguns milhares no pôquer. No mesmo instante, Sergio Ricardo subiu ao palco para interpretar a sua música “Beto Bom de Bola”. O público vaiou, incendiou o teatro, e Sergio Ricardo arrebentou o seu violão no palco. Costa e Silva, apoiado no ombro de Paulo Maluf, sentindo-se perdido num poço de uísque, quebrou o seu relógio Ômega no chão avermelhado no calor de Brasília.
Na última noite, o presidente Costa e Silva perdera alguns milhares no pôquer. No mesmo instante, Sergio Ricardo subiu ao palco para interpretar a sua música “Beto Bom de Bola”. O público vaiou, incendiou o teatro, e Sergio Ricardo arrebentou o seu violão no palco. Costa e Silva, apoiado no ombro de Paulo Maluf, sentindo-se perdido num poço de uísque, quebrou o seu relógio Ômega no chão avermelhado no calor de Brasília.
Atenção, silêncio, tropicália, tradição, quebra parlamentar, toque de sineta, as costas, do Costa, do Brasil, dormiram.
Por isso muitos estudiosos não conseguem entender o Brasil sem documentação histórica, sem educação presidencial, sem vacina, sem emprego, sem comida, mas de vez em quando um brasileiro ainda consegue sorrir.
Prof. Carlos Roberto Rodrigues