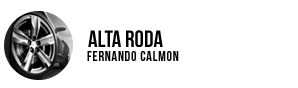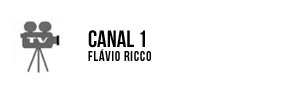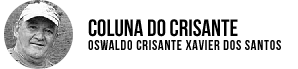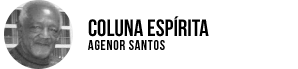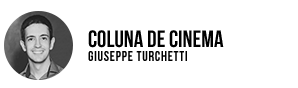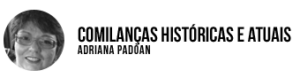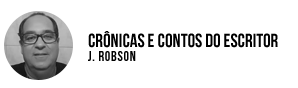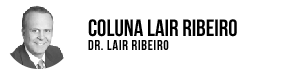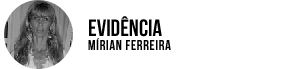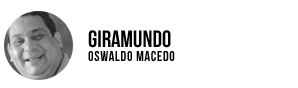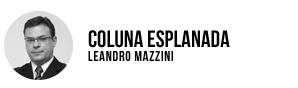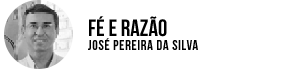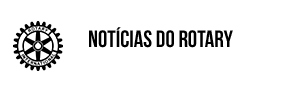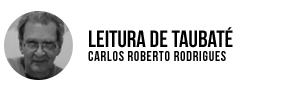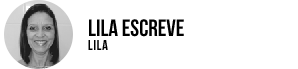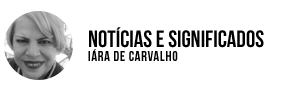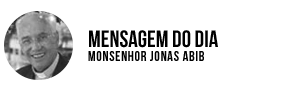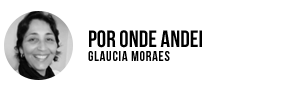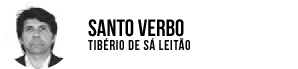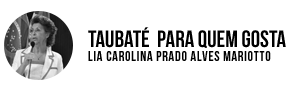Nas mãos de Kubitschek, o Brasil passou por um momento de esperança em ser grande
Imagine um país que fosse campeão mundial em otimismo. Que fizesse bonito não só no futebol, mas no tênis, boxe e atletismo. Pense num povo que pudesse se orgulhar de produzir uma música sofisticada que conquistasse as paradas de sucesso em todo o mundo na voz de grandes ídolos internacionais, incluindo o maior deles, Frank Sinatra.
Imagine uma nação que recebesse, de uma só vez, a Palma de Ouro no festival de cinema de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Pense numa economia em que as indústrias se multiplicassem a olhos vistos, os dólares não parassem de chegar e a produção de petróleo aumentasse 15 vezes em cinco anos. Por fim, imagine ainda que essa terra ostentasse como capital a cidade mais moderna do planeta.
Esse país, acredite, existiu. E o mais incrível: era o Brasil. Na segunda metade da década de 50, parecia que havíamos chegado lá, que tínhamos deixado para trás o estigma de ser uma nação rural, doente, analfabeta e condenada ao subdesenvolvimento e que estávamos prestes a conquistar uma cadeira no seleto clube dos países do Primeiro Mundo. Embalado por essa crença, o país vivia um momento de entusiasmo. Nas palavras de Nelson Rodrigues, um escritor emblemático da época, o brasileiro se libertava do Complexo de Vira-latas.
De onde vinha tanto otimismo? Para historiadores, jornalistas, ou para quem apenas viveu aqueles anos dourados, a fonte de tanto brilho era a figura sorridente e jovial do presidente Juscelino Kubitschek. Mas, num típico dilema do ovo ou a galinha, será que Juscelino gerou o clima de otimismo ou foi gerado por ele? Para a historiadora Marly da Silva Motta, do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), as duas coisas.
Desde o suicídio de Getúlio, o mais popular presidente brasileiro, em agosto de 1954, o país vivia uma crise política. A comoção que se seguiu à morte do velhinho não arrefeceu as ambições de seus opositores, mas os impediu de chegar ao poder pelas urnas. Em 1955, o povo escolheu Juscelino Kubitschek, que encabeçava uma coligação entre o PTB de Getúlio e o Partido Social Democrata (PSD).
Eleito em outubro, ele só assumiu em janeiro de 1955, após ameaças de golpe e um intrincado jogo político de bastidores. “A vitória da democracia foi a primeira boa notícia dos anos JK”, diz Marly. Um a zero para o ovo.
Mineiro de Diamantina, ex-telegrafista, dono de uma carreira política meteórica (elegeu-se deputado federal em 1934, foi nomeado prefeito de Belo Horizonte em 1940, eleito deputado constituinte em 1946 e governador de Minas em 1950), o médico Juscelino Kubitschek de Oliveira chegou à presidência prometendo fazer o Brasil saltar, em um único mandato, meio século à frente na história: o slogan de campanha 50 anos em 5 tornou-se lema de governo.
Para cumprir a promessa, ele apostava tudo no chamado Plano de Metas, um listão de 30 prioridades nas áreas de energia, industrialização, transportes, alimentação e educação.
Se na política Juscelino era um seguidor do getulismo, defendendo a industrialização e a modernização, no campo econômico ele divergia do mentor, principalmente no que se referia ao influxo de capitais estrangeiros. “O que me interessa é a fábrica que o fulano tem, não o país onde ele mora”, dizia. O abandono do discurso nacionalista de Getúlio fez com que seu governo atraísse os conservadores da União Democrática Nacional (UDN), conseguindo apoio quase unânime para seus projetos nos primeiros anos de mandato.
Juscelino gostava de cultivar a lenda de que o Plano de Metas tinha sido elaborado por ele próprio na banheira da casa de um dos cunhados, Júlio Campos. Na verdade, o documento foi preparado pelos técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, atual BNDES.
Gente ligada à UDN, como o engenheiro Lucas Lopes e o economista Roberto Campos. A receita era, em resumo, a seguinte: o país deveria deixar de ser um exportador de matéria-prima para o mundo civilizado e desenvolver, aqui dentro, um poderoso parque industrial.
O plano tinha um aliado externo. Nos anos do pós-guerra, a economia mundial crescia como nunca, principalmente a norte-americana. Além disso, em meio à Guerra Fria, o governo americano via nos investimentos no Brasil, maior e mais populoso país latino-americano, uma forma de deter a ameaça comunista. De olho nos dólares, Juscelino voou para os Estados Unidos antes mesmo da posse e lá foi recebido pelo presidente Eisenhower. Depois foi à Alemanha, Inglaterra, França e Itália.
Na época em que o país era apresentado à escada rolante e inventava a bossa nova, as empresas estrangeiras recebiam incentivos maciços para se instalar no Brasil. Indústrias automobilísticas como as alemãs Volkswagen e DKW chegaram e ajudaram a mudar de vez o cenário das ruas locais. Uma trouxe o popularíssimo Fusca, que virou instituição nacional, a outra lançou um dos símbolos da época: o simpático e barulhento Decavê, apelido inspirado na sigla da montadora, Dampf Kraft Wagen, impronunciável para os brasileiros.
Entre 1955 e 1961, 2 bilhões de dólares entraram no país. Com o tempo, o impacto desses investimentos se transformou em razões concretas para o otimismo ostensivo que tomou conta do Brasil. Fusquinhas, jipes e Kombis, fabricados em série pela primeira vez no país, fizeram a classe média trocar o bonde pelo carro próprio e, grande novidade, construir casas com garagens no jardim. Da porta para dentro, um arsenal eletrônico mudava para sempre a rotina dos lares: liquidificadores, vitrolas, geladeiras, enceradeiras, espremedores de frutas e, principalmente, televisores.
Borogodó
As metas de Juscelino conquistaram todo mundo: Congresso, imprensa e povo estavam convencidos de que, se quiséssemos desenvolver o Brasil, precisávamos de indústrias de ponta. Se estávamos fabricando milhares de automóveis, precisávamos construir rodovias. Uma vez abertas as estradas, levaríamos o desenvolvimento até os lugares mais distantes do território nacional.
Assim, todas as ações seriam postas em prática de forma harmoniosa, como elos de uma corrente. E não é que a coisa funcionou? Quando os resultados começaram a aparecer, o país passou a viver a fase que os livros de história costumam chamar de euforia ou surto desenvolvimentista. Só nos dois primeiros anos do governo JK, o número de estradas pavimentadas cresceu 300%. A quantidade de indústrias triplicou e passou a empregar dez vezes mais gente.
Para abastecer de energia as novas indústrias, o governo construiu hidrelétricas gigantescas como Furnas e Três Marias, ambas em Minas Gerais. E a economia passou a colecionar recordes. Entre 1957 e 1961, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual de 7%, três vezes mais que o restante da América Latina. O Produto Nacional Bruto, o PNB – que difere do PIB porque inclui a renda enviada do país ao exterior –, cresceu 7,9%, contra 5,2% do qüinqüênio anterior. A frota brasileira cresceu 360% em dez anos.
“Foi um momento raro, quando o Brasil viveu uma combinação de dois fatores que não costumam ocorrer por aqui: crescimento econômico e democracia”, diz Marly Motta. Para a historiadora, isso não deve ser menosprezado. Pelo contrário, o binômio liberdade e prosperidade talvez seja justamente o tal passaporte para o Primeiro Mundo.
O jornalista Claudio Bojunga, autor de JK: o Artista do Impossível, acredita ainda num terceiro fator nessa equação. “Além de rimar crescimento econômico com liberdade, Juscelino tinha um compromisso com o sonho e com a imaginação”, disse o biógrafo de JK. “É verdade. Ele tinha borogodó”, diz o escritor e jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, autor de Feliz 1958, o Ano que não Devia Terminar.
Borogodó, gíria dos anos 50, segundo o Dicionário Houaiss, é um substantivo masculino que significa “atrativo pessoal irresistível”. Para Bojunga, ele era um político hábil e sedutor, que sabia compor alianças como poucos. “Talvez ninguém melhor do que o mulherengo JK para encarnar a definição dada pelo cronista Rubem Braga para o exercício da política: ‘É a arte de namorar homem’.”
O carisma de Juscelino se tornou, já naquela época, uma lenda. O presidente era um astro, o nosso John Kennedy: jornalistas, escritores, poetas, artistas, câmaras de cinema, todos o adoravam. Na imprensa, ele virou um mito, quase um semideus. Mas um semideus pé-de-boi, que trabalhava cerca de 20 horas por dia e se deixava fotografar na cama, com o telefone à mão, acordando ministros no meio da madrugada.
Na Veja da época, isto é, na mais vendida e influente revista do país, a Manchete, o presidente aparecia semanalmente dirigindo o Brasil como um imenso canteiro de obras. O coroamento simbólico, quase mítico, de toda aquela ideologia do trabalho e prosperidade foi a construção de Brasília. Juscelino se pôs a erguer no meio do nada, nos desertos do Planalto Central, uma nova capital.
Foi o ápice do otimismo, que tomou conta dos brasileiros, até dos mais brilhantes e famosos: “Juscelino é o poeta da obra pública”, elogiou o escritor mineiro Guimarães Rosa. “A nova cidade crescia num ritmo alegre de trabalho e confiança”, emendou o poeta Vinicius de Moraes, na contracapa do disco Sinfonia da Alvorada, que gravou em parceria com Tom Jobim, em 1960, para homenagear a nova sede política do país.
“Juscelino substituiu o vício da dor pela pedagogia do prazer”, disse o cineasta Cacá Diegues, um dos jovens talentos de então, ao lado de Tom Jobim, Oscar Niemeyer, Pelé, Garrincha, Gláuber Rocha e João Gilberto. “Tudo parecia dar certo para o Brasil: ganhamos a Copa do Mundo, surgiu o cinema novo e a bossa nova, enfim, tudo era novo, tudo era festa”, diz a historiadora Marly Motta. Em Brasília, foram 42 meses de obras e euforia. Mas, se o carisma e a imagem de JK eram imbatíveis, sua política econômica não era.
Vício da dor
Morto em 2001, o ex-diplomata e economista Roberto Campos deixou, em 1998, um depoimento para o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas.
Segundo ele, quando as Diretrizes do Plano de Desenvolvimento, que eram a base do que se tornaria o Plano de Metas, foram apresentadas ao presidente Juscelino, havia três pontos básicos: um plano para o desenvolvimento da indústria nacional, um programa de estabilização monetária e um de reforma cambial, que não era mais do que a velha idéia da liberação da taxa de câmbio.
“Juscelino ficou bastante entusiasmado pelo Plano de Metas, mas foi frio em relação ao plano de estabilização monetária e à reforma cambial”, afirmou Campos.
Apoiado por seu ministro da Fazenda, José Maria Alkmin, o presidente rejeitou um disciplinamento orçamentário durante quase dois anos. Nesse tempo, a parte externa era coberta pelos investimentos diretos de empresas estrangeiras, mas o levantamento de recursos internos dependia de dotações orçamentárias.
À falta de planejamento e controle nessa área, some-se que as empresas de serviço público continuavam deficitárias pela relutância em aumentar tarifas. Isso fez com que boa parte dos financiamentos fosse inflacionária. Assim, como o governo gastava mais do que arrecadava, o déficit público, equivalente a 1% do PIB em 1954, quadruplicou: em 1957 passou para 4%. Em 1958, a dívida externa explodiu e a inflação disparou de 19% para 30% ao ano.
Em junho, Alkmin deixou o cargo, sendo substituído por Lucas Lopes. Em outubro, o novo ministro apresentou ao Congresso o Programa de Estabilização Monetária (PEM), que era, na verdade, uma tentativa de resgatar as propostas feitas a Juscelino antes da posse. “O presidente insistia, entretanto, que o programa não interferisse no Plano de Metas, coisa que Lopes e eu aceitávamos”, disse Campos.
“Mas Juscelino queria também que não afetássemos os investimentos em Brasília, o que era algo bem mais difícil.” De um jeito ou de outro, já era tarde. A inflação abalara a credibilidade do governo federal, que, além de tudo, sentia a água nas canelas, com o Fundo Monetário Internacional exigindo termos muito mais duros para renegociar a dívida brasileira.
Contra o PEM uniu-se um grupo pouco ortodoxo e de amplo espectro de interesses: os empresários, que não queriam estabelecer limites à expansão de créditos; os fazendeiros de café, que eram contra a redução da sustentação dos preços do produto; os nacionalistas, que o consideravam uma submissão ao FMI.
E a eles juntou-se o próprio presidente. No início de 1959, Juscelino rompeu com o Fundo. “O Brasil tornou-se adulto. Não somos mais os parentes pobres relegados à cozinha”, discursou, no Rio de Janeiro, em junho de 1959. O gesto do presidente rendeu-lhe uma última dose de popularidade. Mas, àquela altura, a bolha desenvolvimentista já não tinha como se sustentar.
Nas cidades, trabalhadores que tiveram seu salário diminuído pela inflação protestavam por aumento: só em 1959, 56 greves sacudiram o país. No campo, as agitações não eram menores: pequenos proprietários se viram sem financiamento, e o número de sem-terra aumentou a pressão por reforma agrária. A insatisfação geral alimentou a imprensa oposicionista, com a Tribuna da Imprensa do jornalista Carlos Lacerda à frente.
O inimigo histórico de Getúlio e do getulismo acusava Juscelino de ter se locupletado à custa da avalanche de dinheiro estrangeiro que entrara no país. Diante da oposição cerrada, JK chegava ao fim de seu mandato. Em outubro de 1960, não conseguiu fazer de seu ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott, seu sucessor. O governador de São Paulo, Jânio Quadros, empunhando uma vassoura como símbolo de campanha e prometendo varrer a bandalheira da corrupção, liderou a oposição e obteve a vitória nas urnas.
O presidente que havia produzido uma onda de entusiasmo coletivo acabava o mandato amargando uma fragorosa derrota. Em sua extensa biografia de Juscelino, Claudio Bojunga afirma que ele apostava todas as fichas nas eleições seguintes, marcadas para 1965. “Juscelino acreditava que voltaria a Brasília nos braços do povo, pois imaginava que Jânio, que pregava a austeridade financeira, iria provocar o arrocho econômico e, assim, fazer o Brasil sentir saudades do que perdera”, diz Bojunga.
Mas, como sabemos, não foi isso que ocorreu e a eleição nunca chegou. Em março de 1964, após a inesperada renúncia de Jânio em 1961 e do conturbado governo do vice-presidente João Goulart, os militares tomaram o poder e cassaram os direitos políticos dos principais líderes políticos do país – incluindo Juscelino, que partiu para o exílio, de onde voltou apenas em 1967. Chegou a ser preso pela ditadura em 1968. Solto logo em seguida, permaneceu longe da política em silêncio forçado até morrer em 1976, num ainda polêmico acidente de automóvel.
Os militares carrancudos permaneceram 20 anos em Brasília e o governo do risonho e democrático Juscelino passou para o imaginário nacional como um paraíso perdido. “Se é verdade que o país viveu no fim dos anos 50 uma época exemplar, também é fato que muito do eldorado que se atribui hoje a Juscelino é uma idealização, uma construção do presente, fruto da necessidade que temos de ainda acreditar que o Brasil um dia quase deu certo”, afirma Marly Motta. Quase.
Para saber mais
JK: o Artista do Impossível, Claudio Bojunga, Objetiva, 2001 – A mais completa biografia do ex-presidente permite uma visão geral do cenário político, econômico e cultural do período
Feliz 1958: o Ano que não Devia Terminar, Joaquim Ferreira dos Santos, Record, 1997 – Curiosidades, modismos e fofocas do ano que se tornaria um símbolo da Era JK
Brasília Kubitschek de Oliveira, Ronaldo Costa Couto, Record, 2002 – Os bastidores da construção de Brasília, com espaço para defensores e oposicionistas da idéia