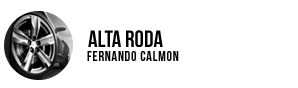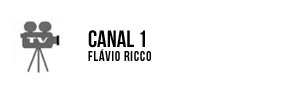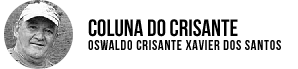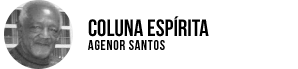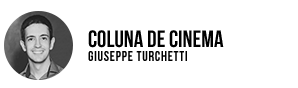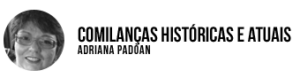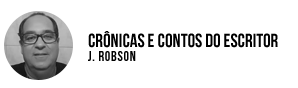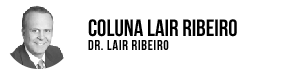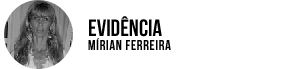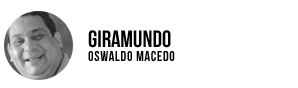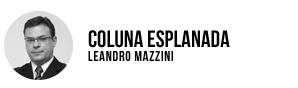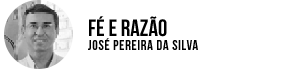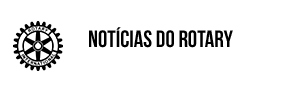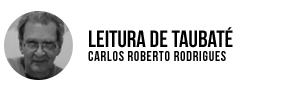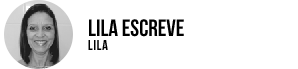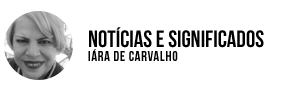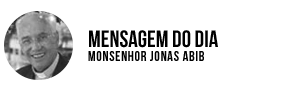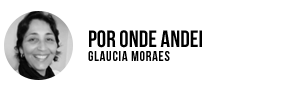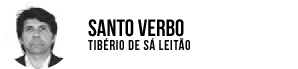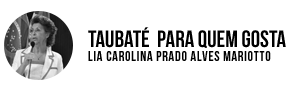A cultura caipira tem sido discutida cotidianamente por muitos pesquisadores, mas pouco ainda se sabe sobre a cultura caipira no vale do Paraíba.
A região é marcada por uma variedade de fatos que, no mais da vez, deixa os que buscam informações sobre o assunto diante de vários antagonismos e um deles tem sido a causa de muitas discussões: o isolamento cultural vivido pelos municípios do Alto Vale. É lógico que as diferenças são evidentes entre esses municípios por causa da distância que eles mantêm entre si.
Todos estão unidos em torno das cidades maiores que vão desde Guaratinguetá, Taubaté até São José dos Campos e, às variáveis que define a identidade de cada um deles depende em grande parte das relações com os centros urbanos mais avançados e, mais grave ainda é a dependência com relação ao emprego.

Diante de todo esse quadro vivemos uma desterritorialização da cultura, mas ainda tem prevalecido o simulacro das tradições que se apresentam com certas dificuldades nas áreas urbanas das cidades de origem e dependendo da situação social e as necessidades ela vai com as pessoas para periferia dos centros maiores.
Lá na cidade Grande, às coisas ficam diferente, os olhares, as vontades e os amigos vão se distanciando e aquela viola que na roça era a pioneira da roda, agora está isolada e os filhos que antes participavam da festa da família e dos amigos preferem os shows e as baladas nos finais de semana com os cantores da televisão. A viola ficou “brega” segundo o conceito deles porque ser caubói é ser “moderno”.
TRADIÇÕES VIVAS
“Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar…” como canta Renato Teixeira em uma de suas músicas sobre os costumes caipiras, a viagem pode ser longa e seguir variados destinos.
Ela dura até meses, quando quem sai pela estrada é uma folia do Divino como a de Cunha, no interior de São Paulo.
Na cidade e na área rural cheia de pequenos sítios, os foliões percorrem casas e mais casas entoando versos religiosos. À noite uma delas serve de pouso, e a viola se une a outros instrumentos para fazer a festa do pouso da folia. Danças e músicas profanas – algumas herdadas de tempos remotos, outras de repertório sertanejo mais recente – adentram a madrugada. No final da viagem acontece a grande festa, a festa do Divino, possível graças às doações de cada morador.

Outras vezes, é somente quando anoitece que a viola sai em viagem. Nas folias de ou ternos-de-reis, que percorrem outras tantas casas pelo Brasil afora, entre o Natal e dia De Reis (6 de janeiro), a cantoria, formada às vezes por seis vozes em alturas diferentes, acorda moradores a altas horas. O grupo revive a viagem dos três Reis Magos da tradição cristã, que saíram em busca do menino Jesus, andando apenas à noite – para despistar o rei Herodes, que queria matar a criança.
Mas quando a viagem é de mudança, acontece de a viloa ficar na sacola por mais tempo que o previsto, “pendurada na parede” da casa nova, como conta José Alves Rodrigues, o Capitão Reis que veio de Minas Gerais para São Paulo, em 1962, largou a viola por uns cinco anos para cuidar melhor da mulher e das crianças.
Quando as coisas se acertaram a viola deixou de juntar “baratas” e juntou a mineirada que vivia no bairro e recomeçaram com a folia. A vizinhança escutou e gostou e não deu mais para parar, informa Capitão reis.
Outros que levaram a viola para cidade grande às vezes voltam a coloca-la na sacola e viajam para o interior na época das festas. É nesse período que Cunha recebe muitas pessoas vindas da capital e regiões adversas de São Paulo na busca de manifestação cultural própria da identidade dessas pessoas, que, em sua maioria, deixaram município nas décadas de 1960 e 1970.
A viagem dessa cultura caipira prossegue também pelas gerações. Na “roça” e em cidades interioranas, a regra é a transmissão oral, por convivência e participação, desde crianças, nesses costumes que integram um ciclo de festas. Mas, nas cidades maiores, alguns jovens se interessam em retornar a herança cultural de seus pais ou avós, ou em compreender a sonoridade dessas tradições.
“Cresci ouvindo meus avós falarem dessas coisas. Quis aprender e eles me ensinaram. Gosto muito dessa cultura. Acho que está no sangue”, fala seu Zé Tereza morador do bairro das Três Pontes, em Cunha.
 Além de dançar Moçambique ele está ensinando para seu grupo a encenação da embaixada e, eles já estão apresentando com um resultado bastante eficiente, precisando muito pouco do auxílio do mestre o desenvolvimento da dança. Na festa do Divino eles apresentaram na cidade de Cunha, e, foram muito bem recebido pela população que não os via há mais de 22 anos.
Além de dançar Moçambique ele está ensinando para seu grupo a encenação da embaixada e, eles já estão apresentando com um resultado bastante eficiente, precisando muito pouco do auxílio do mestre o desenvolvimento da dança. Na festa do Divino eles apresentaram na cidade de Cunha, e, foram muito bem recebido pela população que não os via há mais de 22 anos.
O grupo coordenado pelo seu Zé Tereza está bastante disperso porque a maioria dos seus componentes são parentes e moram em Aparecida. Para cada apresentação há um custo com transporte que às vezes dificulta a saída deles de uma região para outra ou até mesmo o encontro de todos os componentes do grupo. Quase todos os componentes do grupo são não dançam apenas Moçambique, dançam também outras danças e cantam diversas modalidades como catira, calango, folia-de-reis e outros ritmos ligados à religiosidade e a cultura popular valeparaibana.
Essas pessoas que vieram de Cunha se espalharam pelo vale do Paraíba e aos poucos estão regatando as tradições da folia-de-reis, do Moçambique, do catira que também sofre influencia dos mineiros que moram na região, mas viagem e história não faltam, mostrando uma diversidade que hoje se reinventa em um espaço rural em transformação e na área urbana com mais ou menos dificuldade.
MISTURA E LUTAS
Entre essas viagens, as mais longas foram as trouxeram a viola e Portugal ao Brasil, no século XVI, e aquelas que, posteriormente, espalharam a sonoridade do instrumento pelo país.
Música e dança foram muito utilizadas na conversão de índios ao catolicismo, num processo que misturou elementos culturais ibéricos – religiosos e profanos – aos dos povos nativos do Brasil. Segundo pesquisadores na origem do catira está uma dança indígena, o cateretê. Já no canto em desafio do cururu é possível reconhecer, entre outras heranças, a dos menestréis europeus (assim como no repente nordestino). Provavelmente usado pelos jesuítas para fixar temas sacros entre os índios, o cururu existe até hoje como dança religiosa em Mato Grosso e como canto em improviso, em geral sobre temas profanos, no interior de São Paulo.
Elementos negros também se mesclam pouco a pouco, contribuindo em especial para a diversidade de rítmica, perceptível no jongo, samba-lenço e batuque de umbigada. Danças dramáticas como congada, Moçambique, catupé e marujada são outros exemplos. Eles se ligam à devoção por São Benedito e outros santos protetores dos negros – resultado da conversão dos escravos ao catolicismo. Alguns grupos ainda fazem a “embaixada”, dramatizando lutas entre mouros e cristãos ou entre povos africanos. Mas, em geral, dança se hoje apenas em um cortejo, no qual os instrumentos de percussão são presenças marcantes.
Esses cruzamentos interculturais fazem agora parte da tradição e são vistos de forma positiva, por enriquecê-la. Isso não significa, no entanto, que tenham sido pacíficos. “Ocorreram confrontos entre dominadores, portugueses e seus descendentes, e os nativos e negros escravizados, resultando em processos de resistências e preservações de traços culturais”, escreve o Alberto Ikeda etnomusicólogo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), na apresentação do livro São Paulo de Corpo e Alma (2003).
A ROÇA SE TRANSFORMA
A cultura caipira desenvolveu-se principalmente entre os “sitiantes” pequenos proprietários de terra, ou arrendatários e parceiros (que cultivam uma área pertencente a outros em troca, respectivamente, de parte da produção ou pagamento de uma quantia em dinheiro, e têm direito de morar no local, plantando uma “roça” para sua subsistência).
Segundo Antonio Cândido, em sua obra clássica sobre o tema – Os Parceiros do Rio Bonito (1964) –, esses sitiantes vivem em agrupamentos “de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas”.
 Hoje, ainda há “alguns bolsões de pequenos produtores em que essa rede de parentesco e vizinhança estabelece elos importantes para a sobrevivência”, afirma a socióloga Maria Helena Rocha Antuniassi, do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo (USP).
Hoje, ainda há “alguns bolsões de pequenos produtores em que essa rede de parentesco e vizinhança estabelece elos importantes para a sobrevivência”, afirma a socióloga Maria Helena Rocha Antuniassi, do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo (USP).
“Nessas regiões há grande possibilidade de as festas tradicionais acontecerem com regularidade e de maneira semelhante à de antigamente”, diz a pesquisadora, dando exemplo do vale do Jequitinhonha (MG).
Alguns municípios paulistas do vale do Paraíba, como Cunha, Silveiras e São Luís do Paraitinga vivem uma situação híbrida. A área rural ainda é marcada pela existência de sitiantes, ligada por folias e outras festas. Mas nos últimos anos, a pecuária leiteira, pouco competitiva, e a produção de gêneros alimentícios vêm cedendo espaço a setores como o de lazer e turismo e o reflorestamento com eucalipto. Muitos sitiantes migraram para cidades maiores como Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos.
De um modo geral, no entanto, a realidade do espaço rural mudou muito nas últimas décadas.
“No período militar, houve uma opção clara do governo pela grande lavoura, que passou a depender menos de parceiros e arrendatários”, analisa a socióloga.
Nessa conjuntura, mesmo do Estatuto do Trabalhador Rural (1963) não impediu sua expulsão do campo.
“Antes, quem tocava dois ou três alqueires de café tinha direito de cultivar meio alqueire de arroz, feijão, etc. hoje ninguém planta é só salário mínimo” conta um ex-parceiro da região.
 Agora os fazendeiros só produzem para eles, então aquelas colônias acabaram, todo mundo mudou para a cidade. E agora com esse maquinários modernos, a situação anda pior”.
Agora os fazendeiros só produzem para eles, então aquelas colônias acabaram, todo mundo mudou para a cidade. E agora com esse maquinários modernos, a situação anda pior”.
“Usada em larga escala, a tecnologia tira os moradores da fazenda, e eles são o suporte material destas festas caipiras”, confirma Antuniassi. Mas seria simplista vê-la apenas como vilã, pois, quando utilizada por sitiantes ligados a essas tradições, ela ajuda a alcançar competitividade e, assim, a manter a propriedade da terra.
A pauperização da população rural, decorrente muitas vezes da falta de políticas para o pequeno produtor, é que pode dificultar mais a continuidade dessa cultura. Não só expulsar os moradores da terra, mas também porque essas “práticas festivas estão baseadas em trocas. Se você não tem o que dar, não é parte da rede” diz a socióloga, referindo-se ao ritual estabelecido por grupos como as folias, que distribuem bênçãos e são compreendidas como presenças do Divino nas casas, levando os moradores a retribuírem com donativos para festa comunitária.
Apesar da migração intensa para as cidades ocorrida nas últimas décadas, o grau de urbanização que aparece no censo do IBGE – 81,2%, em 2000 – pode não dar conta da complexidade da realidade, alerta o economista José Eli da Veiga, USP, em seu livro O Brasil é menos Urbano do que se Calcula (2002). Isso porque de acordo com os critérios adotados, não são diferenciados os moradores das metrópoles, efetivamente urbanos, dos que vivem nas sedes de municípios de pequeno porte e baixa densidade demográfica, nos quais a economia e a vida estão, muito mais atreladas ao setor primário e ao espaço rural.
DE DEVOÇÃO A FOLCLORE
“A migração é fator relevante, potencializa o dinamismo das manifestações populares, estimulando trocas e conseqüentes transformações na música que convencionamos chamar tradicional. Pode também favorecer o afastamento e o esquecimento, quando, no novo meio, não é possível manter os encontros e as condições propícias à sua prática”, escreve a pesquisadora Juliana Saenger no livro tocadores (2000).
Quando esse novo meio é a cidade grande, a presença mais intensa de estímulos culturais externos e a forte exclusão social a que alguns migrantes se vêem submetidos podem dificultar a recriação dos espaços de convivência caipira. “Mas, em muitos casos, as redes de parentesco e vizinhança persistem”, afirma Antuniassi.
Ligados por uma origem – e, às vezes, uma saudade – comum, os caipiras auxiliam-se mutuamente e continuam a confraternizar com suas danças e músicas, que passam até a falar dessas adaptações, como a moda de viola seu Lertino:
“Essa viola de pinho
Que estão vendo em minhas mãos
Ela é feita de madeira
E veio do sertão
Hoje vive na cidade
Com sua tradição
No folclore brasileiro
Na mão desse violeiro
Alegrando corações”.
Ma s viver na cidade implica adaptar-se seu ritmo. Não há mais a possibilidade de deixar o restante da família tocando o trabalho da roça e sair para folia-de-reis, por exemplo. Assim, algumas folias urbanas giram apenas no entardecer ou, durante o dia, nos finais de semana. Às vezes é preciso começar a peregrinação antes do Natal ou estendê-la por mais tempo em janeiro, para conseguir visitar todas as casas.
Em Cunha, cinco folias-de-reis percorrem o município, mas há muitas diferenças entre elas, pois cada uma tem sua origem e influência, como no bairro da Bocaina onde a folia-de-reis tem origem mineira, além canto há muitas encenações com palhaços, brincadeiras com as crianças e agradecimento aos festeiros e anúncio da próxima família para acompanhar os foliões para festa do ano vindouro diz o professor Agenor.
Muitas mudanças, muitas continuidades, o que importa é que “essas tradições estão vivas e atuais, não deixando nunca de existir no imaginário popular” diz o professor Pedro Máximo, referindo-se a uma das conotações negativas que o termo “caipira” com freqüência carrega. A prática da música tradicional, escreve Juliana Saenger, “vem, desde sempre, sofrendo alterações e influências, em um sistema dinâmico, não estático. (…) Diferente do patrimônio histórico material, a preservação das tradições musicais não implica necessariamente, a restauração de uma suposta forma original, e manutenção de todas as suas características através de sua proteção de influências ‘externas’.

Por se tratar de manifestação artística que ao longo do tempo é praticada por diversas pessoas, é inevitável que ganhe várias contribuições, tanto da criação e da competência de seus praticantes, como de novas condições que o meio acaba de colocar”. Como diria Guimarães Rosa, em Grande Sertão – Veredas:
“Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isso: que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam”.
Assim a cultura caipira vem ligada a terra e ás tradições que vão renovando diante do próprio tempo que não é pobre e nem rico demais, mas é construtor e preservador da identidade de cada povo diante de sua própria história. É isso que move as diferenças, cria novos rumos e conduz a sociedade na busca da sua verdade, que, fora do simulacro patafísico se ajusta ao mundo e as suas afeições.

É assim que cada um se vê ou identifica-se com o mundo territorializado ou não, porque diante do lugar há o que é próprio e fora dele a revivência e transmissão dos atos e dos valores criados pelo tempo. Por isso no olhar de cada povo está sempre presente o lugar de origem ou mesmo, em caso mais remoto, a lembrança dos antepassados que por oralidade se transformou ao longo das gerações nessa terra colonizada e recolonizada de acordo com os interesses e os ciclos das economias europeias de ontem e mesmo hodierna.
MITO E REALIDADE
Cercado por muitos preconceitos a cultura caipira tem se libertado dos estereótipos que lhe foram colocados como verdadeiros no seu significado cotidiano, mas parece que a necessidade do mundo globalizado abriu espaço a essa cultura ajustando-a ao modelo capitalista de forma a se ajustar como mercadoria a ser explorada na forma de turismo rural.
Há muito para se preservar desde que os valores sejam para beneficiar os mantenedores dessa identidade, fugindo do jogo marcado pelas encenações feitas por visionários do capital sem nenhum conceito de preservação da memória, tanto do lugar, quanto da ética sobre a vida humana ligada a um ponto de origem.

Não dá para imaginar que no meio de tanta simplicidade surja algo tão puro, algo que vem da alma sem rascunho, é apenas ser enquanto fé religião que unem no cotidiano para gerenciar a existência de cada ato posto em prática junto ao público. É dessas diferenças que surge as causas e os meios da continuidade desses grupos espalhados pelo vale do Paraíba, isso não é cultura de um só, mas de um grupo que se atualiza na amizade e no parentesco dentro dos mais diversos graus possíveis.
Nada disso se alterou porque não existe o outro na identidade, mas apenas como observador que às vezes é permitido participar como amigo ou como estudioso e, tudo se abre e se fecha a contento à sobrevivência das relações do grupo.
Por Oswaldo Macedo