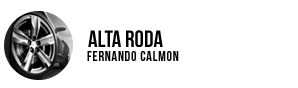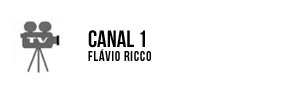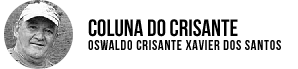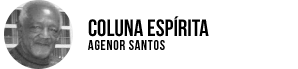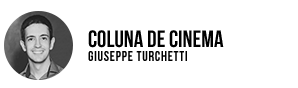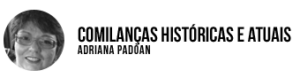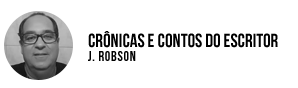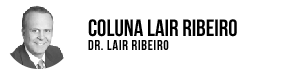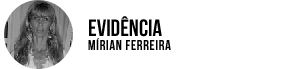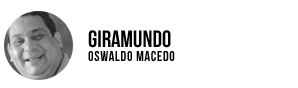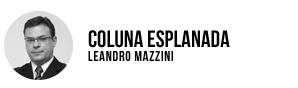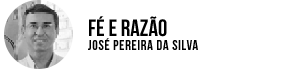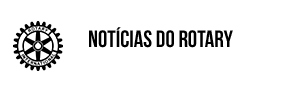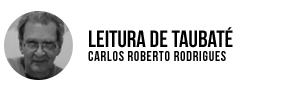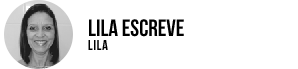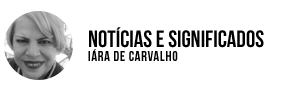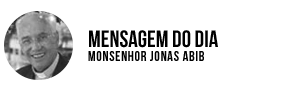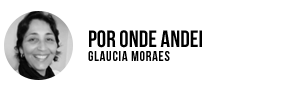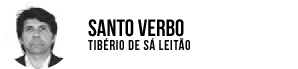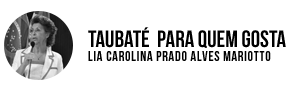São sempre as mesmas noites, a mesma planície escura sobre nós. Intensa, negra e infinita. Mesmo quando nos prometem, como noticiaram, “uma chuva de estrela, quando os meteoros em combustão invadem a atmosfera terrestre”, o céu permanece impávido, como se receasse participar no espírito do tempo, a festa da abundância.
Em vão aguardamos sinais extraordinários no céu. Adormecemos cansados de esperar. Sonhamos com as estrelas em movimento de um quadro de Van Gogh, mas o céu, esse pedaço de eternidade,mantém-se imperturbável como se escondesse, no fundo das gavetas do universo, o enxame de estrelas cadentes.
Soube, já ao amanhecer, que as cidades matam as estrelas, que elas foram dispensadas de aparecer nas noites luminosas dos centros urbanos e que se tornaram objeto de estudo para cientistas, como se fossem coisas do passado.
Talvez por isso elas estejam ressentidas e só exibam o seu brilho, de tempos em tempos, a certas pessoas, as que ainda persistem em espreitá-las no horizonte arroxeado do entardecer.
Revejo neste tipo inaugural, o que fomos como povo que atravessaram oceanos orientado pelo mapa celeste, como fomos peregrinos que cruzaram continentes até abraçar santuários guiados pelo reflexo tênue vindo do céu e como outrora adormecemos em paz, embalados pela contagem irregular dos astros cintilantes.
As estrelas fazem-nos falta. Perdemo-nos encandeados pelo brilho excessivo das cidades. Estamos bloqueados pelas luzes intermitentes e enfeites provisórios.
Enquanto dura este Advento, procuro habituar-me ao escuro para que possa contemplar, com nitidez, a luz de infinita claridade que surge no Oriente. E peço todos os dias a João, o Batista, esse oftalmologista divino que me ajude a ver de novo as estrelas.
Por José Pereira da Silva – professor de História